
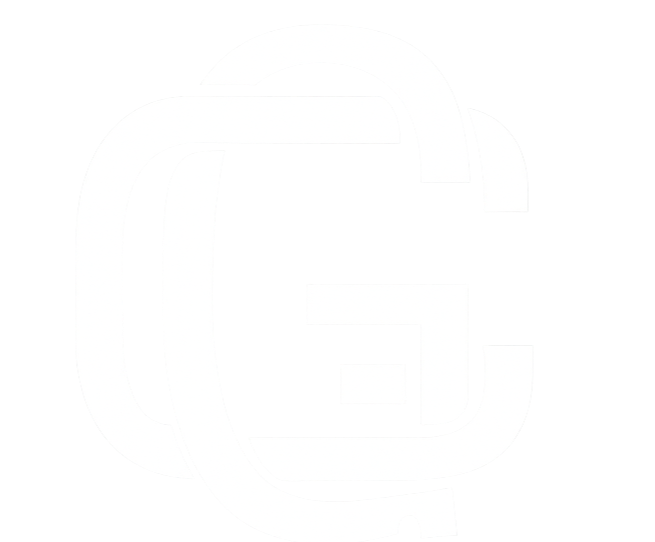
SOLUÇÕES LEGAIS
Dra. Gleicy Fernandes Gasparini, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo, OAB/SP 357.223, mais de 10 anos de experiência na atuação profissional. Especializada em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário, Direito Imobiliário e Penal.
Assessoria Jurídica Especializada
[ Estabilidade no Emprego sob a CLT: Fundamentos e Modalidades ]
Parecer Crítico:
Estabilidade no Emprego sob a CLT: Fundamentos e Modalidades
12/05/2025
Por Dra. Gleicy Fernandes Gasparini e André Gasparini
Estabilidade no Emprego sob a CLT: Fundamentos e Modalidades
A estabilidade no emprego é um dos temas centrais do Direito do Trabalho brasileiro, relacionada à proteção do trabalhador contra dispensas arbitrárias ou imotivadas. Em termos gerais, estabilidade significa o direito de permanência no emprego, mesmo contra a vontade do empregador, desde que não haja motivo legalmente justificável para a demissão.
Historicamente, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 1943 previu um sistema de estabilidade decenal para empregados com longo tempo de serviço (dez anos na mesma empresa), porém tal regime foi gradualmente substituído pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a partir de 1967 e, definitivamente, pela Constituição de 1988. Em vez de uma estabilidade ampla a todos os empregados com certo tempo de casa, o ordenamento evoluiu para um sistema no qual a proteção contra a dispensa imotivada se dá por garantias provisórias de emprego em situações específicas e pelo pagamento de indenizações compensatórias (como a multa de 40% do FGTS nas dispensas sem justa causa, conforme o art. 10, I do ADCT da Constituição de 1988).
No contexto atual, portanto, a estabilidade no emprego prevista na CLT assume caráter excepcional e provisório, aplicável a determinados grupos ou circunstâncias, como gestantes, acidentados, dirigentes sindicais, membros de comissões internas, entre outros. Essas garantias têm fundamento em dispositivos constitucionais e legais que visam resguardar valores sociais relevantes – a maternidade, a saúde do trabalhador, a liberdade sindical etc. – diante do poder potestativo do empregador de rescindir contratos de trabalho.
Fundamentos Jurídicos da Estabilidade no Emprego
A ideia de estabilidade no emprego está intimamente ligada ao princípio da proteção ao trabalhador e à continuidade da relação de emprego. No plano constitucional, a Constituição Federal de 1988 previu expressamente a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, determinando que fosse regulamentada por lei complementar (art. 7º, I, CF/88). Enquanto essa lei complementar não é editada, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) garantiu, interinamente, duas medidas: (i) a obrigatoriedade de indenização compensatória em caso de dispensa imotivada (multa de 40% do FGTS); e (ii) a estabilidade provisória de empregadas gestantes e de membros da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – desde a confirmação da gravidez ou eleição até períodos determinados após o parto ou o mandato (ADCT, art. 10, II, "a" e "b").
Além disso, a Constituição assegurou, no art. 8º, VIII, a estabilidade do empregado dirigente sindical, desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, salvo se cometida falta grave devidamente apurada. Tais comandos constitucionais estabelecem limites ao poder patronal de dispensar unilateralmente em situações nas quais prevalecem direitos fundamentais do trabalhador (maternidade, representação coletiva, saúde e segurança).
No plano infraconstitucional, a CLT e leis esparsas regulamentam as garantias de emprego. Originalmente, a CLT instituiu a chamada estabilidade decenal (art. 492 da CLT), pela qual o empregado com mais de dez anos de serviço não poderia ser dispensado sem justa causa – estabilidade essa considerada “absoluta” ou definitiva, pois conferia ao trabalhador verdadeira inamovibilidade no empregojusbrasil.com.br. Contudo, com a instituição do FGTS pela Lei 5.107/1966 (posteriormente sucedida pela Lei 8.036/1990), a estabilidade decenal passou a ser opção apenas dos empregados não optantes pelo FGTS. A partir da Constituição de 1988, o regime do FGTS tornou-se obrigatório para todos os empregados, extinguindo na prática a estabilidade decenal ampla, exceto para aqueles raros trabalhadores que já haviam completado dez anos de empresa até 04/10/1988 sem aderir ao FGTSjusbrasil.com.br. Assim, o ordenamento trabalhista brasileiro transitou de um modelo de estabilidade geral para um modelo de garantias de emprego relativas ou provisórias, concentradas em hipóteses específicas e por prazos determinados.
É importante conceituar a diferença entre estabilidade e garantia de emprego, conforme ensina a doutrina trabalhista. Amauri Mascaro Nascimento, renomado jurista laboral, esclarece que estabilidade estrito senso refere-se à irrevogabilidade do vínculo empregatício, impedindo a dispensa ad nutum, enquanto garantia de emprego é gênero mais amplo que engloba medidas de política de emprego para obtenção e manutenção do trabalho.
Em sentido técnico, somente a antiga estabilidade decenal e a estabilidade do servidor público estatutário seriam estabilidades plenas ou absolutas, ao passo que as demais proteções previstas na iniciativa privada (gestante, acidentado, dirigente sindical, etc.) configuram estabilidades provisórias ou garantias relativas, pois vigoram por tempo limitado e não impedem a dispensa por justa causa. Ainda assim, é comum tanto na doutrina quanto na prática forense referir-se a essas garantias legais específicas como formas de “estabilidade no emprego”, dada a similaridade de efeito: proteger o empregado contra a rescisão arbitrária durante certo período ou condição.
Outro aspecto jurídico relevante é o mecanismo exigido para a dispensa motivada de empregados detentores de estabilidade. No regime clássico de estabilidade decenal (ainda aplicável aos poucos trabalhadores remanescentes pré-1988), a CLT determinava que a rescisão por justa causa somente seria válida se a falta grave fosse apurada em inquérito judicial perante a Justiça do Trabalho (CLT, arts. 493 e 853) – um procedimento especial para resguardar o empregado estável de acusações infundadas. Já nas estabilidades provisórias atuais, prevalece o entendimento de que o empregado garantido pode ser dispensado por justa causa de forma direta, mediante comprovação dos motivos nos autos de eventual reclamatória trabalhista, sem necessidade de inquérito prévio. Ou seja, na prática atual, a proteção conferida é contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa; ocorrendo falta grave devidamente comprovada, até mesmo gestantes, acidentados ou dirigentes sindicais podem perder a garantia de emprego e serem despedidos, conforme previsão legal expressa ou interpretação jurisprudencial (a título de exemplo, a Constituição admite a dispensa do dirigente sindical em caso de falta grave "nos termos da lei", e o art. 482 da CLT – que lista as justas causas – aplica-se a todos os empregados, ainda que estáveis).
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passamos à análise das modalidades de estabilidade no emprego no regime da CLT, dividindo-as entre: (a) a estabilidade decenal histórica; (b) as estabilidades provisórias previstas em lei, abrangendo gestantes, acidentados, dirigentes sindicais, membros de CIPA, dentre outras; e (c) as estabilidades asseguradas por norma coletiva ou decisão normativa. Em seguida, abordaremos a situação dos regimes de trabalho que não contemplam estabilidade e as implicações disso, para então discutir criticamente a efetividade das proteções existentes e possíveis reformas.
Modalidades de Estabilidade no Emprego
Estabilidade Decenal (Estabilidade Definitiva Histórica)
A estabilidade decenal foi introduzida na CLT original (art. 492) e vigorou como o principal mecanismo de proteção contra dispensa arbitrária nas relações privadas de emprego durante várias décadas. Por esse regime, o empregado urbano ou rural que completasse mais de dez anos de serviço contínuo na mesma empresa adquiria estabilidade absoluta, não podendo ser dispensado sem justa causa. Em caso de falta grave, a empresa necessitava ajuizar o mencionado inquérito para apuração da falta, sob pena de reintegração do empregado. Tratava-se, portanto, de uma estabilidade plena, equiparada ao serviço público em termos de segurança no emprego. Autores clássicos qualificavam-na como estabilidade permanente, em contraposição às estabilidades temporárias ou provisórias das demais hipóteses.
Contudo, a partir da instituição do FGTS em 1966/1967, o sistema sofreu significativa mudança. O FGTS surgiu como alternativa à estabilidade decenal: os empregados passaram a poder optar pelo novo regime fundiário, que lhes assegurava depósitos mensais e indenização de 40% sobre o saldo em caso de demissão imotivada, abrindo mão, em contrapartida, da perspectiva de estabilidade.
A grande maioria dos trabalhadores e empregadores aderiu ao FGTS, dada a flexibilidade que proporcionava às empresas e a liquidez imediata proporcionada ao trabalhador demitido. Já em 1988, a Constituição tornou o FGTS obrigatório para todos os contratos e aboliu definitivamente a possibilidade de novos casos de estabilidade decenal. Apenas conservaram o direito à estabilidade no emprego (até aposentadoria) aqueles poucos empregados não-optantes que já haviam completado dez anos na empresa na data da promulgação da Constituição (05/10/1988). Em outras palavras, a estabilidade decenal tornou-se um instituto em extinção.
A partir de então, o regime geral dos trabalhadores privados brasileiros passou a ser o de livre dispensa mitigada por encargos, em que o empregador pode dispensar imotivadamente, porém pagando verbas rescisórias legais (aviso prévio, multa do FGTS, etc.), exceto nas hipóteses específicas de estabilidade provisória. Muitos juristas destacam que a mudança para o FGTS representou uma flexibilização nas relações de trabalho, privilegiando a indemnização compensatória em lugar da manutenção forçada do vínculo.
Arnaldo Sussekind, um dos autores da CLT, já observava que o FGTS, ao substituir a estabilidade decenal, atendeu a reivindicações patronais de maior mobilidade, mas também significou menor proteção à continuidade do emprego, transferindo ao trabalhador o ônus de buscar nova colocação após a dispensa, ainda que com recursos do fundo. Essa transição é alvo de críticas por parte de segmentos da doutrina que defendem a adoção de mecanismos mais eficazes contra a dispensa arbitrária – tema ao qual retornaremos ao tratar das propostas de reforma.
Importante notar que, durante a vigência do regime de estabilidade decenal, desenvolveram-se regras próprias, algumas das quais remanescem no ordenamento por inércia legislativa. Por exemplo, os arts. 492 a 500 da CLT (que tratam do empregado estável) e o art. 497 da CLT (prevendo indenização dobrada em caso de dispensa imotivada de estável) tornaram-se em grande parte letra morta após 1988, aplicáveis apenas àquela residual categoria de “empregados estáveis” anteriores à CF/88. Atualmente, é extremamente raro deparar-se com um caso concreto de empregado celetista detentor de estabilidade decenal – a maioria absoluta já se aposentou ou deixou o emprego –, de modo que tal modalidade tem interesse principalmente histórico e doutrinário. Ainda assim, vale o registro de que a estabilidade decenal foi o único caso de estabilidade definitiva no setor privado prevista na CLTjusbrasil.com.br, e sua extinção marcou o fim de uma era no Direito do Trabalho brasileiro.
Estabilidades Provisórias Previstas em Lei
As estabilidades provisórias (ou garantias de emprego relativas) são aquelas previstas em normas constitucionais transitórias ou em legislação ordinária, que resguardam o emprego do trabalhador por um prazo determinado ou em razão de uma condição pessoal específica, após a qual cessa a garantia. Diferentemente da estabilidade decenal, elas não impedem indefinidamente a dispensa sem justa causa, mas apenas temporariamente, visando proteger o empregado em momentos ou posições de especial vulnerabilidade. A seguir, examinamos as principais hipóteses de estabilidade provisória reconhecidas no ordenamento, com seus fundamentos legais e contornos jurisprudenciais.
Para consulta com a dra.Gleicy Fernandes Gasparini, envie mensagem para 11 9326-7430 Atendimento Online e Presencial.
Estabilidade da Gestante
A estabilidade da empregada gestante é talvez a mais conhecida das garantias de emprego. Seu fundamento constitucional encontra-se no art. 10, inciso II, alínea "b" do ADCT da CF/88, dispositivo que estabelece ser vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
Trata-se de proteção à maternidade e ao nascituro, inserida no texto constitucional para assegurar que a trabalhadora grávida tenha tranquilidade durante a gestação e no puerpério imediato, não temendo a perda do emprego e da remuneração nesse período crítico. A CLT reforça essa garantia no art. 391-A (incluído pela Lei 12.812/2013), o qual explicita que a confirmação da gravidez, mesmo durante o aviso prévio (trabalhado ou indenizado), garante a estabilidade provisória à gestante, inclusive nos casos de adoção, equiparando a mãe adotante à gestante biológica em termos de proteção ao emprego
A estabilidade gestacional abrange desde o início da gravidez (ou seja, a concepção, confirmada por laudo médico) até cinco meses após o parto. Note-se que o período de cinco meses após o parto extrapola, em regra, o período da licença-maternidade (que é de 120 dias, ou quatro meses, nos termos do art. 392 da CLT). Assim, normalmente a empregada retorna da licença quando o bebê tem quatro meses e ainda possui um mês adicional de garantia de emprego.
Caso a empregada seja dispensada sem saber que está grávida ou mesmo que a empregadora desconhecesse a gestação, a jurisprudência sedimentada assegura o direito à estabilidade da mesma forma – não se exige, portanto, que a empresa tenha ciência prévia da gravidez para que a proteção se aplique. Esse entendimento foi consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) na Súmula nº 244, item I, que explicitamente dispõe: “o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade”. Em outras palavras, a estabilidade não decorre de um fato subjetivo (ciência do empregador), mas sim de uma condição objetiva (gravidez durante o contrato).
Outra questão que se colocou na prática foi a aplicação da garantia às trabalhadoras contratadas por prazo determinado, em particular em contratos de experiência ou temporários. Por muitos anos, houve debate: de um lado, a literalidade do ADCT menciona apenas "dispensa arbitrária", o que gerou controvérsia se o término natural de um contrato por prazo certo configuraria ou não uma dispensa arbitrária. O TST inicialmente firmou, via súmula, o entendimento de que sim, a gestante em contrato a termo também detinha estabilidade – vide Súmula 244, item III (redação de 2012), que assegurava o direito à estabilidade provisória mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Com base nisso, muitas trabalhadoras em contrato de experiência, dispensadas antes do termo final enquanto grávidas, obtiveram na Justiça do Trabalho o reconhecimento da estabilidade e a condenação do empregador a pagar os salários correspondentes ao período da garantia (ou reintegração, se dentro ainda do período gestacional ou dos 5 meses pós-parto).
Entretanto, houve uma inflexão recente decorrente de decisão do Supremo Tribunal Federal. Em 2018, no RE 629.053 (Tema 497 de repercussão geral), o STF fixou tese no sentido de que a estabilidade provisória da gestante (art. 10, II, "b" do ADCT) exige apenas a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa, não fazendo referência a contratos a termo. Mais relevante, o STF, ao examinar aquele caso (que versava sobre gestação descoberta após o término de contrato temporário), indicou que o término regular de contrato por prazo determinado não se enquadra como "dispensa arbitrária ou sem justa causa", mas sim como extinção natural do pacto, não gerando estabilidade.
Com base nisso, o próprio TST revisitou sua jurisprudência: a Quarta Turma do TST, por exemplo, em dezembro de 2022, decidiu não aplicar a Súmula 244, III, a um caso de contrato a termo, destacando que a garantia constitucional protege contra atos imotivados do empregador, não abrangendo a extinção do contrato pelo decurso de prazo previamente ajustado. Em suma, o entendimento que vem prevalecendo é que, se a gravidez ocorrer durante um contrato por tempo determinado e este se encerrar na data prevista, não há obrigação de estabilidade além do termo final – pois não ocorreu uma dispensa arbitrária, mas apenas o fim regular do ajuste.
Nesses casos, a gestante não teria direito à reintegração ou indenização do período restante além do contrato. Essa mudança ainda gera debates, e o tema não está inteiramente pacificado: magistrados trabalhistas ressaltam que a Súmula 244 do TST permanece formalmente válida, enquanto outros aplicam diretamente a tese do STF (que tem força vinculante). De todo modo, a tendência atual aponta para a inaplicabilidade da estabilidade gestante em contratos a termo encerrados no prazo pactuado, restringindo a garantia às hipóteses de dispensa antecipada ou nos contratos por prazo indeterminado.
Importante salientar que a estabilidade da gestante não impede a rescisão por justa causa, se houver motivo (por exemplo, falta grave comprovada). Também não torna o vínculo vitalício: trata-se de garantia temporária, expirando cinco meses após o parto. Após esse marco, a empregada pode ser dispensada normalmente (desde que não haja outra estabilidade, como por exemplo se ela for também dirigente sindical ou cipeira). A efetividade dessa proteção na prática será objeto de análise adiante, mas já se registra aqui um dado preocupante: pesquisas indicam que muitas trabalhadoras mães são dispensadas pouco tempo após o término do período estabilitário. Um estudo da FGV, realizado com 247 mil mulheres, revelou que 50% das mães são demitidas até dois anos após o fim da licença-maternidade, ou seja, depois de transcorrida a estabilidade legal. Esse dado sugere que, passada a garantia de cinco meses pós-parto, há uma incidência significativa de desligamentos, possivelmente refletindo discriminação ou dificuldades de conciliação entre maternidade e trabalho.
De fato, há relatos de trabalhadoras demitidas no dia seguinte ao fim da estabilidade ou pouco tempo depois, o que demonstra que alguns empregadores apenas postergam a dispensa em razão da proibição legal, mas mantêm a intenção de desligamento. Essa realidade reforça a necessidade de reflexão crítica sobre os limites e mecanismos de proteção à maternidade no emprego, como veremos na seção de efetividade.
Estabilidade do Acidentado (Garantia do Acidente de Trabalho)
O empregado que sofre acidente do trabalho ou desenvolve doença ocupacional conta, pela legislação brasileira, com uma garantia provisória de emprego conhecida como estabilidade acidentária. A fonte legal dessa estabilidade é o art. 118 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social), que determina: “O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente”.
Em outros termos, quando um trabalhador sofre um infortúnio laboral que o afasta do serviço e recebe benefício previdenciário acidentário (auxílio-doença acidentário), ao retornar ele não pode ser dispensado sem justa causa pelo período de um ano, salvo se cometer falta grave. Essa estabilidade de 12 meses conta a partir do fim do benefício (alta médica previdenciária) e independe do tempo de serviço do empregado na empresa ou do período de afastamento (desde que tenha havido efetiva percepção do benefício acidentário, ou, em algumas interpretações, ao menos afastamento superior a 15 dias com emissão de CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho).
A constitucionalidade dessa garantia foi questionada por empregadores no início dos anos 1990, argumentando-se que somente lei complementar poderia tratar de despedida arbitrária (conforme art. 7º, I, CF). Todavia, o Tribunal Superior do Trabalho e depois o Supremo Tribunal Federal reconheceram a validade do art. 118/91. O TST inclusive sumulou a matéria: a Súmula nº 378, item I, consagra que é constitucional o artigo 118 da Lei 8.213/91, assegurando a estabilidade de 12 meses ao acidentado. O fundamento é que tal dispositivo não extrapola os limites da legislação ordinária, pois não cria estabilidade geral, mas sim proteção pontual a acidentados, em harmonia com o inciso XXII do art. 7º da CF (direito a redução dos riscos inerentes ao trabalho) e com o princípio da dignidade da pessoa humana.
A jurisprudência, por meio da Súmula 378/TST, também estabeleceu os pressupostos para a estabilidade acidentária: (i) comprovação do acidente de trabalho ou doença profissional equiparada; (ii) afastamento superior a 15 dias e percepção do auxílio-doença acidentário pelo INSS; e (iii) alta médica com aptidão para o retorno. Cumpridos esses requisitos, o empregado não pode ser dispensado imotivadamente no período de um ano pós-retorno. Excepcionalmente, admite-se a estabilidade mesmo que o INSS não tenha concedido o benefício, nos casos em que a doença profissional só seja reconhecida tardiamente ou negada indevidamente – entendimento construído para evitar que a sonegação de CAT ou erro administrativo prejudiquem o direito do trabalhador. Além disso, o TST já pacificou que essa garantia também alcança empregados com contrato por prazo determinado: mesmo em contratos temporários ou de experiência, sobrevindo acidente de trabalho com afastamento, o trabalhador adquire a estabilidade de 12 meses após a alta, ainda que o término do contrato a prazo certo ocorresse antes disso.
Ou seja, diferentemente do caso da gestante, entendeu-se que a finalidade protetiva do art. 118 da Lei 8.213/91 – assegurar continuidade de emprego para reabilitação do acidentado – prevalece mesmo sobre a limitação temporal do contrato. Assim, se um empregado em contrato temporário sofre acidente e fica afastado, a empresa não pode simplesmente deixá-lo desligado ao fim do contrato: deverá mantê-lo (ou indenizá-lo) pelo período estabilitário de 12 meses após a recuperação.
A estabilidade acidentária não protege contra dispensas motivadas: se o trabalhador comete falta grave ou a empresa encerra suas atividades, a garantia cessa (no caso de encerramento da atividade empresarial, entende-se que há força maior, cabendo ao empregado apenas a indenização prevista em lei). Também aqui, como nas demais, a tutela é temporal: expirado o prazo de doze meses, não há obstáculo legal à dispensa sem justa causa, que volta a ser decisão empresarial, mediante pagamento das verbas rescisórias habituais.
Em termos práticos, a estabilidade do acidentado revela-se uma ferramenta importante de saúde e segurança: funciona como estímulo às empresas investirem em prevenção (para evitar arcar com empregados estabilizados sem plena capacidade produtiva) e garante ao trabalhador acidentado um período de segurança para recuperação e eventual readaptação. No Brasil, que infelizmente registra números altos de sinistralidade laboral, essa garantia cobre um contingente significativo de casos.
Apenas para ilustrar, no ano de 2024 foram registrados 724.228 acidentes de trabalho no país. Destes, cerca de 12% resultaram em afastamentos superiores a 15 dias – isto é, milhares de trabalhadores ao ano potencialmente fazem jus à estabilidade acidentária. Apesar de expressiva, essa proteção enfrenta desafios: há empregadores que tentam fraudar o registro do acidente (deixando de emitir CAT) para não gerar estabilidade; e, não raro, findo o período de um ano, muitos acidentados são dispensados, às vezes enfrentando dificuldades de reinserção devido a sequelas. Ainda assim, do ponto de vista jurídico, a estabilidade acidentária é tida como uma conquista social consagrada, já legitimada pelo STF e TST, e qualquer reforma nesse ponto tende a ser vista com reserva pela doutrina, dada sua conexão com direitos fundamentais à vida e à saúde do trabalhador.
Estabilidade do Dirigente Sindical
A liberdade sindical e a representação dos trabalhadores são garantidas pela Constituição Federal, que, em seu art. 8º, inciso VIII, assegura que o empregado eleito dirigente sindical não pode ser dispensado arbitrariamente desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato, salvo se houver falta grave devidamente comprovada nos termos da lei. Essa proteção visa evitar que empregadores retaliem líderes sindicais por sua atuação em defesa da categoria, o que fragilizaria a organização coletiva dos trabalhadores. A CLT, em seu art. 543, §3º, também prevê garantia semelhante, e a prática consolidou o termo estabilidade sindical para referir-se a esse direito.
A estabilidade do dirigente sindical tem algumas características específicas. Primeiro, ela inicia-se com o registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. Isso significa que, desde o momento em que o empregado comunica formalmente que concorrerá a posição na diretoria do sindicato (ou conselho fiscal etc.), ele já não pode ser dispensado sem justa causa. No entanto, a CLT exige, para eficácia dessa garantia, que haja comunicação por escrito à empresa dentro de 24 horas do registro da candidatura (CLT, art. 543, §5º) – formalidade que o STF considerou compatível com a Constituição e necessária para conhecimento do empregador. Assim, se o empregado candidata-se, mas não informa o empregador, e este o despede sem saber, a jurisprudência majoritária entende que não se configura ilegalidade, exceto se provado que a empresa tinha ciência informal.
Se o candidato for eleito, a estabilidade prossegue durante todo o mandato sindical e por mais um ano após o seu término (período conhecido como “mandato de graça”). Caso não seja eleito, discute-se na doutrina e jurisprudência se há ou não estabilidade do candidato não eleito; prevalece o entendimento de que não, salvo previsão em acordo coletivo, pois o texto constitucional só menciona o eleito. A Súmula nº 369 do TST reflete vários desses pontos: assegura a estabilidade ao empregado dirigente sindical (ainda que suplente) e reconhece que a estabilidade abrange até 7 dirigentes titulares e 7 suplentes por entidade sindical, nos termos do art. 522 da CLT, que limita o número de diretores sindicais estáveis.
Essa limitação numérica – ou seja, não são todos os membros da diretoria executiva de um sindicato que gozam de estabilidade, mas apenas até 7 (número máximo previsto na velha CLT para compor diretorias sindicais) – chegou a ser questionada por violação à liberdade sindical, mas o STF, no julgamento da ADPF 276 em 2020, confirmou a recepção do art. 522 da CLT pela Constituição e considerou válida a Súmula 369/TST, entendendo que estabelecer um número máximo razoável de dirigentes estáveis não ofende a liberdade sindical. Conforme pontuou o Supremo, a proteção visa assegurar a atuação sindical, mas não criar estabilidade genérica e ilimitada que pudesse desvirtuar a norma constitucional.
Durante o período de estabilidade, o dirigente sindical somente pode ser desligado se cometer falta grave, e mesmo assim a jurisprudência recomenda que o empregador busque o crivo judicial para maior segurança (por meio de inquérito judicial para apuração de falta grave, analogamente ao previsto na CLT para estáveis, embora haja debate se é obrigatório ou não no caso sindical). Ademais, o STF delineou, em precedente, que a proteção não se estende a hipóteses como fechamento do estabelecimento ou extinção da própria empresa por motivos econômicos – nesses casos extremos, a estabilidade cairia, pois não há como garantir emprego se a vaga deixa de existir.
Por outro lado, se a empresa demite o dirigente estável sem motivo ou sob pretextos não comprovados, estará sujeita à imediata reintegração ou, caso o período de estabilidade já tenha passado quando da decisão judicial, ao pagamento de indenização compensatória equivalente aos salários e demais direitos de todo o período protegido
Uma questão peculiar concerne ao empregado membro de categoria diferenciada (ou seja, aquele cuja categoria profissional é representada por sindicato diverso da atividade preponderante da empresa): a Súmula 369, item III, esclarece que tal empregado só goza de estabilidade sindical se exercer na empresa atividade pertencente à categoria do sindicato que dirige. Em outras palavras, evita-se que alguém ligado a um sindicato de outra categoria use isso para obter estabilidade em empresa onde aquela representação não tenha base.
Por fim, é válido mencionar que a estabilidade sindical abrange não apenas os dirigentes de sindicatos propriamente ditos, mas também situações análogas previstas em lei. Por exemplo, a Lei nº 5.764/1971 assegura estabilidade aos empregados eleitos diretores de cooperativas formadas pelos empregados na empresa. Do mesmo modo, representantes de trabalhadores em órgãos de deliberação coletiva, como conselhos (e.g., antigas juntas de conciliação, conselhos de previdência social etc.), possuem garantia de emprego durante seus mandatos, equiparável à dos dirigentes sindicais. Até mesmo os suplentes das representações podem ser protegidos, a depender da função (o TST reconhece, por exemplo, estabilidade a suplentes de CIPA, como visto adiante, e a doutrina estende isso a suplentes sindicais eleitos, dentro do limite numérico).
Em suma, a estabilidade do dirigente sindical constitui ferramenta essencial para resguardar a liberdade sindical e a atuação independente dos representantes dos trabalhadores. Sem essa proteção, seria fácil para empregadores dispensarem líderes incômodos, enfraquecendo a ação coletiva. Apesar da garantia legal, a efetividade plena da estabilidade sindical enfrenta desafios práticos: há registros de empresas que, não podendo demitir o dirigente, optam por transferi-lo de setor, isolá-lo ou não promover, numa espécie de represália velada; ou ainda hipóteses de encerramento repentino de departamentos nos quais atuava dirigente, sob alegada motivação econômica. Tais situações acabam muitas vezes sendo discutidas em juízo, cabendo ao Judiciário analisar se houve abuso patronal ou real necessidade.
No tocante à limitação a 7 dirigentes estáveis, que em sindicatos grandes (como de bancários, metalúrgicos, etc.) pode deixar vários diretores descobertos, entende-se que estes não estáveis correm risco ao firmar contrato de trabalho, mas eventuais dispensas retaliatórias contra eles podem ser questionadas com base em nulidade por discriminação anti-sindical, à luz da Convenção 98 da OIT (mesmo sem estabilidade formal, pode-se pleitear reintegração se comprovada despedida discriminatória).
Para consulta com a dra.Gleicy Fernandes Gasparini, envie mensagem para 11 9326-7430 Atendimento Online e Presencial.
Estabilidade dos Membros da CIPA
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), obrigatória em empresas com certo número de empregados (NR-5 do MTE), é formada por representantes do empregador e dos empregados com a finalidade de prevenir acidentes e promover saúde ocupacional. Os representantes dos empregados na CIPA, por serem eleitos pelos próprios colegas e exercerem uma função de fiscalização e cobrança em matéria de segurança, também gozam de estabilidade provisória. Tal garantia foi inicialmente prevista no art. 164, §2º da CLT (redação original de 1943) e foi reforçada pela Constituição de 1988, que, no ADCT art. 10, II, "a", estendeu a proteção aos cipeiros.
Conforme o ADCT e a CLT (art. 165), é vedada a dispensa arbitrária dos titulares da representação dos empregados na CIPA desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Ou seja, qualquer empregado que se candidate e venha a ser eleito para a CIPA não pode ser demitido sem justa causa durante o período em que está concorrendo e exercendo o mandato (mandato normalmente de um ano), e após o término deste ainda por mais um ano. Essa estabilidade abrange tanto os membros titulares quanto os suplentes eleitos da CIPA, segundo entendimento pacificado: o próprio TST, pela OJ nº 339 da SDI-1 (atualmente convertida em parte na Súmula 676 do STF), firmou que o suplente cipeiro também é estável, pois deve estar resguardado caso precise assumir as funções do titular. A razão dessa estabilidade ampla (a todos os eleitos, titulares e suplentes) é garantir que a participação na CIPA não se torne um risco para o empregado – se não houvesse estabilidade, o medo de demissão poderia inibir candidaturas e tornar a CIPA inefetiva.
Assim como nas demais hipóteses, a estabilidade dos cipeiros não é absoluta: admite-se a dispensa por justa causa (ex.: um cipeiro que comete falta grave pode ser demitido, cabendo à empresa provar a falta em juízo) e também cessa em caso de extinção do estabelecimento ou redução drástica que elimine a necessidade da função. Mas dispensas sem motivo de cipeiros são consideradas nulas, assegurando-se a reintegração ou indenização equivalente ao período restante da estabilidade. É pertinente destacar que a jurisprudência majoritária entende que essa estabilidade especial não impede a rescisão motivada por motivo econômico comprovado – por exemplo, se a empresa comprovar necessidade de dispensa coletiva por crise financeira que atinja inclusive o cipeiro (hipótese em tese enquadrável como "motivo técnico, econômico ou financeiro" que descaracterizaria despedida arbitrária nos termos do art. 165, parágrafo único, da CLT e OJ 86 SDI-1 do TST). No entanto, tais casos são avaliados com rigor para evitar fraudes.
Outras garantias ligadas à saúde e segurança no trabalho podem ser citadas: por exemplo, o empregado afastado por doença grave – apesar de não haver estabilidade legal além do acidente de trabalho já mencionado, algumas decisões têm aplicado analogicamente proteções contra dispensa discriminatória (Lei 9.029/95) a empregados acometidos de doenças graves não ocupacionais (como câncer ou HIV), entendendo que uma dispensa logo após o retorno de auxílio-doença pode caracterizar discriminação. Nesses casos, o Judiciário tem, não raro, determinado a reintegração, valendo-se do princípio geral antidiscriminatório. Trata-se, porém, de construção pretoriana e não de estabilidade formal prevista em lei; por isso, não nos aprofundaremos além de registrar sua existência como tendência em prol da dignidade do trabalhador enfermo.
Estabilidades por Força de Norma Coletiva ou Sentença Normativa
Além das garantias de emprego previstas em lei, o ordenamento permite que negociações coletivas (acordos e convenções coletivas de trabalho) ou decisões oriundas de dissídios coletivos fixem cláusulas de estabilidade provisória em favor de determinados empregados ou grupos. Essas são as chamadas estabilidades convencionais ou normativas, que decorrem da autonomia coletiva privada ou da atuação da Justiça do Trabalho em seu poder normativo (este último hoje bastante restrito após a Reforma de 2017, mas historicamente relevante).
Um exemplo muito comum de estabilidade convencionada é a estabilidade pré-aposentadoria. Não há lei garantindo estabilidade a trabalhadores próximos da aposentadoria, porém diversas categorias profissionais conquistaram, via cláusula coletiva, a proteção contra dispensa nos anos imediatamente anteriores ao implemento do direito à aposentadoria. Em geral, as convenções coletivas dos setores preveem que o empregado que estiver, por exemplo, a até 12 ou 24 meses de cumprir os requisitos para se aposentar não poderá ser dispensado sem justa causa. Essa garantia visa evitar que o empregado, às vésperas de aposentar-se, perca o emprego e tenha dificuldade de recolocação justamente no final da vida laboral.
Na maioria dos casos, o direito à estabilidade pré-aposentadoria está previsto na convenção coletiva da categoria profissional correspondente. A título ilustrativo, categorias como professores, bancários, metalúrgicos, químicos, entre outras, usualmente possuem esse tipo de cláusula protetiva. Os requisitos variam conforme a negociação: algumas exigem tempo mínimo de serviço na mesma empresa além da proximidade da aposentadoria, outras exigem comunicação formal do empregado ao empregador de que está em período pré-aposentatório (e decisões recentes do TST validaram cláusulas que condicionam a garantia à prévia comunicação, sob pena de o empregado não poder invocá-la após ser dispensado sem o conhecimento da empresa).
Outra estabilidade convencional recorrente é a estabilidade pós-greve ou pós-conflito coletivo. Em acordos que encerram greves, é frequente as partes pactuarem uma cláusula de estabilidade temporária a todos os trabalhadores ou aos membros da comissão de greve, para evitar retaliações.
Do mesmo modo, quando um dissídio coletivo é julgado pela Justiça do Trabalho, não raro, no passado, os tribunais incluíam cláusulas normativas concedendo estabilidade por certo período (30, 60, 90 dias) após a sentença normativa, a fim de garantir a implementação pacífica das novas condições e coibir dispensas em massa. Por exemplo, há registros de sentenças normativas determinando que nenhum empregado fosse dispensado sem justa causa nos 90 dias seguintes ao julgamento, ou assegurando estabilidade aos membros das comissões de negociação. Essas medidas, todavia, tinham vigência limitada à data-base ou ao prazo estipulado, não integrando de forma definitiva os contratos (até porque cláusulas coletivas vigoram pelo prazo de vigência da norma coletiva, não se incorporando indefinidamente).
Pode-se citar também, como estabilidade por decisão normativa, aquela concedida judicialmente a dirigentes sindicais de base que não tinham previsão legal explícita. Por exemplo, no passado, delegados sindicais (representantes do sindicato por local de trabalho) chegaram a obter estabilidade via dissídio coletivo (TRT da 2ª Região, DC 146/83, cláusula assegurando estabilidade a delegados sindicais enquanto perdurasse o mandato). Com a atual jurisprudência conferindo primazia à negociação coletiva e restringindo o ativismo judicial normativo, é menos comum que a Justiça do Trabalho imponha novas estabilidades; porém, nada impede que as partes, de comum acordo, fixem garantias transitórias em um acordo coletivo homologado judicialmente.
É importante ressaltar que acordos ou convenções coletivas não podem suprimir ou reduzir as estabilidades garantidas em lei, por se tratarem de normas de ordem pública protetivas mínimas. Ou seja, uma convenção não pode permitir a dispensa de gestante ou acidentado em contrariedade à lei, pois tal cláusula seria nula. O que podem é ampliar direitos: criar novas estabilidades (como as citadas pré-aposentadoria, pós-greve etc.) ou estender prazos das existentes (por exemplo, há convenções que estendem a estabilidade da gestante para até 6 ou 7 meses após o parto, em vez de 5 meses). Tais inovações são perfeitamente válidas, desde que não conflitem com nenhum dispositivo legal expresso. A Reforma Trabalhista de 2017 (Lei 13.467/2017) trouxe o princípio do negociado sobre o legislado em muitos temas, mas não há, por enquanto, previsão legal permitindo negociar a retirada de estabilidade legal – esse seria um ponto altamente sensível e provavelmente inconstitucional, já que feriria a garantia mínima assegurada constitucionalmente (no caso de gestante e cipeiro, por exemplo, as garantias estão na Constituição). Assim, a negociação coletiva atua aqui como complemento protetivo, e não como redutor de direitos.
Convém mencionar que, segundo dados e observações práticas, as estabilidades convencionais têm se difundido especialmente em categorias com sindicatos fortes. Por exemplo, a estabilidade pré-aposentadoria é quase onipresente nos instrumentos coletivos dos bancários e professores universitários privados. Já em categorias menos organizadas, tais garantias adicionais são raras ou inexistentes. Isso demonstra como a tutela da estabilidade no Brasil possui um caráter dual: uma camada básica ditada pela lei (de alcance geral) e uma camada suplementar, disponível apenas a segmentos que logram negociá-la coletivamente.
Regimes de Trabalho Sem Estabilidade: Pessoa Jurídica (PJ) e Formas Precárias
Em contraste com o regime celetista tradicional, que contempla as estabilidades acima analisadas, existem modalidades de contratação ou arranjos laborais que não asseguram estabilidade alguma ao prestador de serviço. Nos últimos anos, tornou-se notória a tendência da pejotização, termo pelo qual se denomina a contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas em vez de empregados regidos pela CLT. Nesta prática, o profissional constitui uma empresa (geralmente EIRELI ou MEI, enquadrada no Simples) e presta serviços para a contratante mediante emissão de notas fiscais, sem vínculo empregatício formal. Do ponto de vista jurídico, sendo o contrato firmado entre duas pessoas jurídicas (ou entre uma PJ e um autônomo), aplica-se a legislação civil/empresarial, e não a trabalhista. Consequentemente, não há garantia de emprego ou estabilidade: a contratante pode rescindir o contrato de prestação de serviços conforme as condições pactuadas, geralmente com bem menos obrigações do que teria numa demissão de empregado (às vezes basta um aviso prévio contratual ou pagamento por eventual quebra antecipada de contrato, se previsto). Não se aplicam as proteções da CLT como aviso prévio proporcional, FGTS, 13º, férias, muito menos as estabilidades de gestante, acidente, etc.
A motivação patronal para a pejotização frequentemente reside justamente em reduzir custos e flexibilizar desligamentos. Ao transformar postos de trabalho formal em contratos de PJ, a empresa busca não ter encargos trabalhistas e poder encerrar a relação sem o ônus das verbas rescisórias e sem risco de reintegração. Todavia, tal prática pode configurar fraude às leis trabalhistas quando presentes os elementos de relação de emprego (pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade). Nesses casos, o trabalhador pejotizado pode recorrer à Justiça do Trabalho pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício e, por conseguinte, todos os direitos celetistas que teria, inclusive salários atrasados, FGTS e estabilidade, se for o caso.
Os números demonstram uma escalada de conflitos relacionados a essa forma de contratação: em 2024, a Justiça do Trabalho registrou 285.055 processos com pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício (grande parte dos quais envolvendo alegações de pejotização), um aumento de 57% em comparação com 2023. Essa categoria de ação já figura entre os 20 assuntos mais comuns nas Varas do Trabalho (16º lugar em 2025). O crescimento coincide com a vigência da Reforma Trabalhista de 2017, que permitiu, por exemplo, a terceirização irrestrita da atividade-fim, e também com a crise econômica que levou empresas a buscar redução de custos fixos.
Em resposta a essa enxurrada de casos, o Supremo Tribunal Federal decidiu intervir: em abril de 2025, o Min. Gilmar Mendes, ao relatar um caso de repercussão geral envolvendo a seguradora Prudential, suspendeu a tramitação de todos os processos do país que discutem pejotização até o STF dar a palavra final sobre os critérios de configuração (ou não) de vínculo empregatício nessas situações. Isso mostra a dimensão e relevância do tema no cenário atual.
Do ponto de vista comparativo, o trabalhador contratado como PJ está em posição muito mais frágil quanto à continuidade da relação laboral. Caso engravide, por exemplo, não terá estabilidade alguma – a empresa pode simplesmente optar por não renovar seu contrato ou encerrá-lo, sem que haja mecanismo de reintegração ou pagamento equivalente a salários até 5 meses pós-parto, já que legalmente não há vínculo de emprego.
De igual modo, se sofrer um acidente prestando serviços, não contará com a garantia de 12 meses, nem mesmo com auxílio-doença acidentário do INSS (pois sendo contribuinte individual, teria coberturas distintas e mais limitadas). Se for membro de sindicato, não terá a proteção da CLT/CF para dirigentes, podendo ser desligado livremente. Em resumo, os instrumentos protetivos do Direito do Trabalho não alcançam o trabalhador que labora sob outras roupagens jurídicas, a não ser que ele consiga, via ação judicial, provar que essa roupagem ocultava uma verdadeira relação de emprego.
Não apenas a pejotização, mas outras formas atípicas de trabalho após 2017 reforçaram a parcela de trabalhadores sem estabilidade. O contrato de trabalho intermitente, por exemplo, introduzido na CLT em 2017, permite a contratação sem garantia de jornada nem continuidade – o empregado é chamado quando necessário e pago pelas horas/trabalho efetuado. Nesse regime, embora formalmente seja celetista, a possibilidade de não ser convocado funciona, na prática, como um desligamento branco a critério do empregador, sem gerar direito à estabilidade ou mesmo ao tradicional aviso prévio/multa FGTS se simplesmente deixar de oferecer serviço. Também o chamado autônomo exclusivo (figura convalidada pela reforma) e o teletrabalho por produção podem dificultar a caracterização do vínculo empregatício e, portanto, escapar do campo de aplicação das estabilidades.
Evidentemente, há situações legítimas em que a contratação como pessoa jurídica não configura fraude – por exemplo, consultores e profissionais de alta especialização que prestam serviços para múltiplos clientes, com autonomia. Porém, a proliferação das PJs em atividades típicas de emprego (jornais substituindo jornalistas celetistas por “PJ’s”, escolas fazendo o mesmo com professores, hospitais com médicos plantonistas, empresas de TI com desenvolvedores, etc.) indica, segundo muitos juristas, um fenômeno de precarização das relações de trabalho, em que se busca driblar as proteções legais. O lado empresarial argumenta que se trata de flexibilização necessária para enfrentar a concorrência e reduzir a burocracia/custos trabalhistas; já o lado laboral e do Ministério Público do Trabalho enxerga nisso fraude e perda de direitos, inclusive comprometendo a função social do emprego.
A comparação entre o trabalhador celetista protegido e o prestador pessoa jurídica ilustra bem os dois polos: de um lado, um empregado formal que, se engravidar, tiver acidente ou for eleito dirigente sindical, tem respaldo legal para continuar empregado ou ser indenizado; de outro, o contratado PJ que, nas mesmas hipóteses, pode ser dispensado de imediato, sem maiores consequências legais para quem o contratou. Essa discrepância acende o debate sobre a necessidade de atualizar a legislação para contemplar formas modernas de trabalho, sem permitir brechas à burla dos direitos fundamentais do trabalhador.
Efetividade Prática das Estabilidades e Limites Atuais
Depois de delinear os diversos tipos de estabilidade no emprego, impõe-se questionar: têm sido efetivas essas garantias na proteção do trabalhador? Na teoria, as estabilidades objetivam assegurar direitos fundamentais (maternidade, saúde, representação) e conferir ao trabalhador uma segurança jurídica mínima em momentos cruciais. Na prática, contudo, há desafios e limitações que comprometem, em parte, a eficácia dessas proteções.
Um primeiro aspecto é a cultura de observância das normas. Muitos empregadores cumprem espontaneamente as estabilidades – por exemplo, ao serem informados da gravidez de uma empregada durante o aviso prévio, prontamente cancelam a dispensa e a reintegram, ou quando um funcionário sofre acidente de trabalho, abstêm-se de demiti-lo no período estabilitário. Entretanto, há também empregadores que optam por descumprir a lei e arcar com as consequências financeiras.
Isso ocorre especialmente quando eles calculam que a judicialização pode demorar e que, no fim, poderão converter a estabilidade em indenização, sem precisar manter o empregado indesejado no dia a dia da empresa. No caso das gestantes, por exemplo, é frequente o litígio: a empresa demite (alegando desconhecimento ou simplesmente ignorando a proteção) e a trabalhadora ajuíza reclamação para receber os salários do período da estabilidade como indenização.
Embora os tribunais trabalhistas invariavelmente condenem ao pagamento (pois a lei é clara), o resultado prático é que aquela empregada não gozou da continuidade do emprego – ficou desempregada num momento delicado, recebendo apenas tardiamente uma compensação financeira. Isso mostra um descompasso entre o direito formal e a realidade: a estabilidade, que deveria inibir a dispensa, por vezes apenas se converte em um custo a mais da rescisão, internalizado pelo empregador.
Para consulta com a dra.Gleicy Fernandes Gasparini, envie mensagem para 11 9326-7430 Atendimento Online e Presencial.
O exemplo das mães pós-licença é ilustrativo: a mencionada pesquisa da FGV revelou que metade das mulheres são dispensadas até dois anos após a licença-maternidade. Além disso, outra estatística alarmante aponta que 56% das mulheres afirmam ter sido demitidas ou conhecer alguém que foi demitida logo após retornar da licença. Isso sugere que muitos empregadores esperam findar o período de estabilidade (os 5 meses pós-parto) para proceder ao desligamento. Em alguns casos extremos, a demissão ocorre no dia seguinte ao término da estabilidade, evidenciando clara intenção premeditada de não manter a mãe no quadro.
Tais práticas violam o espírito da lei – afinal, a ideia era proteger a maternidade e facilitar a continuidade no emprego – mas, estritamente, não violam a letra da lei se ocorridas após o período protegido. O resultado é que a estabilidade gestante cumpre parcialmente seu papel (evita a dispensa durante a gravidez e primeiros meses do bebê), porém não consegue impedir a discriminação materna de longo prazo. A efetividade, pois, é limitada: garante-se emprego por um curto prazo, mas não se muda a mentalidade de certos empregadores que veem a mãe como um “ônus”.
No caso dos acidentados, situação semelhante pode ocorrer. Há notícias de empresas que procuram fraudar a estabilidade acidentária, seja demitindo o empregado logo antes de ele completar 12 meses de casa (evitando que se torne segurado com direito a auxílio-doença? – embora isso não importe, pois a estabilidade não exige 12 meses de empresa, mas sim 12 meses pós-acidente), seja não registrando o acidente para não gerar o direito. No entanto, a jurisprudência trabalhista tem sido firme em coibir tais condutas: por exemplo, se um acidente ocorreu e a empresa não emitiu CAT, mas o empregado comprova o nexo causal de doença ocupacional só depois da demissão, os tribunais tendem a reconhecer a estabilidade retroativamente.
Ainda assim, na prática, trabalhadores acidentados sofrem pressões para pedir demissão ou fazer acordos e, findo o prazo de 12 meses, como já dito, muitos são desligados. A reintegração de acidentados (quando demitidos dentro do período) é mais efetiva, pois usualmente são casos em que a empresa descumpriu frontalmente a lei e o Judiciário os corrige. O que foge ao alcance da estabilidade é assegurar reabilitação e readaptação adequadas: cumprir 12 meses e mandar embora não raro significa que o trabalhador, já fragilizado, ficará sem apoio justamente quando mais precisa, o que levanta dúvidas sobre se o período de um ano é suficiente ou se deveria ser estendido para algumas situações de incapacidade parcial permanente.
Quanto à estabilidade sindical, a efetividade também enfrenta percalços. Embora a lei proteja o líder, não o protege de práticas anti-sindicais indiretas. Como mencionado, empresas podem não demiti-lo, mas isolá-lo ou dificultar sua vida profissional, algo difícil de provar em juízo como perseguição, a menos que seja muito flagrante. Ademais, existe debate sobre a não extensão de estabilidade a membros não eleitos ou a dirigentes de entidades não reconhecidas formalmente.
Por exemplo, representantes de comissões de fábrica (que não são sindicatos) não têm estabilidade legal; se sofrem retaliação, terão de recorrer a alegações genéricas de dispensa discriminatória, cuja prova é mais complexa. A limitação de números também faz com que, em sindicatos com dezenas de diretores, apenas alguns escolhidos fiquem estáveis – podendo o empregador dispensar outros diretores menos protegidos para enfraquecer a entidade. A justiça do trabalho já coibiu dispensas em massa de funcionários sindicalizados durante greves ou campanhas salariais, entendendo configurado abuso do direito de despedir (retaliação coletiva), mas são soluções caso a caso.
No que tange às estabilidades convencionais, sua eficácia depende do grau de cumprimento voluntário das empresas e da força dos sindicatos em fiscalizar. A estabilidade pré-aposentadoria, por exemplo, muitas vezes exige que o empregado comunique sua condição; se ele não o faz, a empresa alega desconhecimento e demite. O TST recentemente validou a exigência de comunicação prévia prevista em convenção coletiva – decisão polêmica, mas que impõe ao trabalhador o ônus de se identificar como pré-aposentando para gozar da garantia. Muitos deixam de informar por receio de serem marcados e, paradoxalmente, acabam demitidos sem usufruir da proteção. Já na estabilidade pós-greve, em geral, há boa efetividade, porque costuma ser de curtíssimo prazo (30-90 dias) e monitorada pelos sindicatos, havendo cobrança imediata se alguém for dispensado naquele intervalo.
Outro ponto crítico é a fiscalização estatal. O Ministério Público do Trabalho e a Inspeção do Trabalho têm atuado em casos de violação coletiva de garantias (por exemplo, investigando empresas que despedem sistematicamente gestantes ou que pejotizam massivamente). Termos de ajuste de conduta e ações civis públicas são instrumentos usados para reforçar a efetividade dessas normas. Em 2024, por exemplo, o MPT em certa região firmou TAC com uma rede de restaurantes que havia demitido várias grávidas e mães no retorno da licença, obrigando-a a reintegrar e pagar danos morais coletivos. Essas iniciativas ajudam, mas não conseguem cobrir a miríade de pequenas e médias empresas onde a fiscalização não chega.
Um elemento que favorece o cumprimento das estabilidades é o receio de condenações judiciais vultosas. Por exemplo, uma empresa que demite uma gestante e não a reintegra posteriormente pode ser condenada a pagar todo o salário do período de estabilidade, valores que podem chegar a 12 a 18 meses de remuneração (considerando tempo de gestação + licença + 5 meses).
Isso, além de custas, honorários sucumbenciais e eventuais danos morais, torna a dispensa indevida financeiramente onerosa. Da mesma forma, a dispensa de um dirigente sindical estável pode sair caro, pois envolve todos os salários do restante do mandato + ano pós-mandato. Esses potenciais custos fazem muitas empresas pensarem duas vezes antes de arriscar a ilegalidade. Entretanto, algumas ainda preferem pagar para não ter o empregado presente – especialmente em casos de desavenças pessoais, baixo desempenho ou encerramento de setor. Nesses, a estabilidade acaba convertida em indenização, o que é um remédio imperfeito do ponto de vista do objetivo social (que era a manutenção do emprego).
Em síntese, a efetividade das estabilidades no emprego é parcial. Elas cumprem em boa medida a função de coibir demissões arbitrárias imediatas nos casos previstos e de fornecer meios de reparação ao trabalhador dispensado indevidamente. Todavia, não eliminam completamente práticas discriminatórias ou retaliatórias, apenas as postergam ou mitigam. Também não protegem contra contextos econômicos adversos – em crises, muitas estabilidades podem ser frustradas por fechamento de empresas ou cortes coletivos (nesses casos, a lei trabalhista carece de um capítulo específico para demissões coletivas, o que deixa brechas para que empresas encerrem contratos estáveis alegando motivo econômico).
Há ainda a questão de que apenas um contingente relativamente pequeno de trabalhadores formais está abrangido pelas estabilidades a qualquer momento. Por exemplo, considerando 40 milhões de empregados formais, apenas uma fração está grávida ou no puerpério, uma fração sofreu acidente grave recente, outra fração ocupa cargo sindical ou em CIPA.
A ampla maioria não goza de estabilidade específica; sua proteção contra dispensa arbitrária se resume à indenização de 40% do FGTS e aviso prévio. Assim, em termos macro, as estabilidades legais são exceções que beneficiam grupos vulneráveis, mas não constituem a regra geral. Isso é criticado por setores que entendem que o direito fundamental previsto na Constituição (proteção contra despedida arbitrária) não foi verdadeiramente implementado de forma universal – a expectativa de uma lei complementar que disciplinasse o tema segue frustrada passados quase 35 anos da CF/88.
Possíveis Reformas e Alternativas
Diante das limitações identificadas, é natural perguntar quais reformas ou alternativas podem aprimorar o regime de estabilidade no emprego no Brasil. Essa discussão envolve delicado equilíbrio entre a proteção dos trabalhadores e a flexibilidade requerida pelas empresas, e transita por esferas legislativas, judiciais e até internacionais (convenções da OIT).
Uma primeira perspectiva de reforma seria finalmente regulamentar o art. 7º, I da Constituição, editando-se a lei complementar sobre dispensa arbitrária. O comando constitucional prevê que a lei estabelecerá proteção contra despedida arbitrária, "prevendo indenização compensatória, dentre outros direitos". Interpretando literalmente, a Constituição não impôs estabilidade obrigatória a todos, mas determinou alguma forma de proteção adicional além do FGTS. Uma lei complementar poderia, por exemplo, criar um fundo de garantia ampliado ou um seguro-desemprego reforçado, ou mesmo estabelecer que dispensas imotivadas só poderiam ocorrer mediante pagamento de uma multa maior proporcional ao tempo de serviço (aumentando o desestímulo ao turnover). Poderia também prever mecanismos de consulta prévia a sindicatos em casos de demissão em massa, seguindo modelos europeus. Infelizmente, as tentativas de aprovar tal lei complementar esbarraram em resistência.
Já em 1989 tramitou um projeto (LC 5/1989) que instituía, entre outros, uma indenização crescente por ano de serviço e um procedimento de homologação das dispensas, mas não prosperou. Nos anos 90 e 2000 houve discussões esparsas, sem resultado concreto.
No âmbito internacional, a referência básica é a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata do término da relação de trabalho por iniciativa do empregador. Essa convenção, de 1982, prevê que um empregado não deve ser dispensado sem uma causa justificada relacionada à capacidade, conduta ou necessidades da empresa, e estabelece direito de defesa, prazos de aviso prévio e consultas em despedidas coletivas.
O Brasil chegou a ratificar a Convenção 158 em 1995, tornando-a vigente por alguns meses em 1996/97. Entretanto, sob pressão de entidades empresariais, o então Presidente Fernando Henrique Cardoso denunciou (rescindiu) a convenção, retirando o país dos signatários. O Supremo Tribunal Federal recentemente (2023) julgou válida essa retirada, decidindo que a denúncia feita pelo Presidente sem autorização do Congresso foi constitucional e mantendo, portanto, a Convenção 158 fora do ordenamento interno. Isso significa que, no momento, não há obrigação internacional do Brasil em coibir demissões sem justa causa além do que já existe domesticamente.
Contudo, com a mudança de governo em 2023 (orientação mais pró-trabalhador), setores sindicais voltaram a advogar pela re-ratificação da Convenção 158 ou adoção de legislação interna equivalente. Caso o Brasil viesse a adotar tais padrões, haveria uma verdadeira revolução no modelo vigente: todo empregado somente poderia ser demitido por motivo real (seja disciplina ou razões econômicas justificadas), sob pena de reintegração ou indenização elevadíssima. Em economias europeias, por exemplo, exige-se procedimento de justificativa e tentativa de realocação antes do desligamento; no Brasil, isso hoje inexiste para a maioria.
Outra seara de possíveis reformas diz respeito às estabilidades específicas. Há quem defenda a ampliação de certas garantias: por exemplo, prolongar a estabilidade da gestante para além de 5 meses pós-parto (argumenta-se que o primeiro ano do bebê seria crítico para a mãe) ou tornar legal a estabilidade pré-aposentadoria (dado o aumento da expectativa de vida e dificuldades de reemprego de idosos). No Congresso Nacional tramitam periodicamente projetos de lei propondo, por exemplo, estabilidade de 12 meses para mães após retorno (equiparando ao período acidentário) ou garantindo 24 meses de estabilidade antes da aposentadoria. Até agora, não houve aprovação dessas ideias, em parte devido à oposição de entidades empresariais que alegam engessamento na gestão de pessoal.
Por outro lado, também houve propostas de flexibilização das estabilidades. Durante a Reforma Trabalhista de 2017, cogitou-se permitir a negociação coletiva para limitar ou modular algumas garantias – por exemplo, trocar a reintegração da gestante por indenização menor, em caso de insalubridade (de fato, a Lei 13.467 trouxe regra sobre gestante em ambiente insalubre, permitindo afastamento sem remuneração se não houver função alternativa, mas essa foi declarada inconstitucional depois). Em relação ao acidente de trabalho, alguns argumentam que 12 meses fixos é arbitrário e que deveria se vincular à duração do afastamento: por exemplo, se o afastamento foi curto, a estabilidade poderia ser de igual período. No entanto, essa tese não prosperou e a regra continua uniforme de 12 meses.
Uma alternativa sugerida por alguns economistas do trabalho é adotar um sistema de “proteção flexível” (flexicurity nos moldes escandinavos): facilitar dispensas, mas prover ao trabalhador forte apoio na transição (seguro-desemprego robusto, qualificação, recolocação assistida). Nessa lógica, em vez de garantias de emprego ex ante, haveria garantia de empregabilidade. Todavia, isso requer políticas públicas sólidas e fundo financeiro para sustentar, algo difícil em cenários de restrição orçamentária. Até o momento, o Brasil mantém a abordagem tradicional de proteção no próprio vínculo.
Outra frente de debate é a dispensa coletiva. Após 2017, o TST editou a Resolução 219, que equiparou dispensas coletivas às individuais (sem necessidade de acordo coletivo), mas o STF em 2022 (RE 654.432) determinou que a negociação coletiva deve ocorrer previamente. Assim, hoje, grandes cortes de pessoal exigem diálogo com sindicato – o que pode abrir espaço para negociar medidas atenuantes, como planos de demissão voluntária ou mesmo estabilidade temporária para alguns empregados-chave. Isso não afeta diretamente as estabilidades legais, mas se insere no contexto de proteger o emprego em momentos críticos.
No tocante à pejotização e formas precárias, uma "reforma" necessária é o próprio STF pacificar o critério para distinguir autônomo legítimo de empregado disfarçado, pois a insegurança jurídica atual prejudica tanto empresas quanto trabalhadores. Se o STF estabelecer, por exemplo, presunção de vínculo em certos arranjos (como exclusividade e subordinação econômica), isso coibirá a pejotização fraudulenta e forçará a contratação formal, trazendo os trabalhadores de volta ao guarda-chuva das estabilidades celetistas. Por outro lado, se validar determinadas modalidades de contratação civil, pode consolidar um mercado paralelo sem estabilidade. A palavra final da Suprema Corte, aguardada para breve, terá impacto profundo: o ministro relator já sinalizou preocupação com o impacto negativo da pejotização na arrecadação previdenciária e nos direitos dos trabalhadores, indicando possível postura restritiva à prática.
Em conclusão desta seção, percebe-se que qualquer mudança nas regras de estabilidade envolve interesses contrapostos. Os autores trabalhistas consagrados destacam a necessidade de aperfeiçoar a proteção sem inviabilizar a atividade econômica. Maurício Godinho Delgado, ministro do TST e doutrinador, por exemplo, advoga pela concretização do mandamento constitucional anti-despedida arbitrária, seja via revalorização do papel dos sindicatos nas demissões, seja via adoção de critérios objetivos para limites de rotatividade, entendendo que a prevalência absoluta da potestade patronal de dispensar enfraquece a ideia de trabalho decente. Já juristas de viés mais econômico, como algumas correntes da Anamatra (associação de magistrados trabalhistas), sugerem que a segurança do emprego é também produtiva, pois trabalhadores estáveis tendem a investir em qualificação e em comprometimento de longo prazo com a empresa, reduzindo custos de turnover. Por outro lado, advogados empresariais alertam que excessos de rigidez na dispensa podem gerar efeito inverso: dificultar novas contratações (o empregador ficaria receoso de contratar pessoas que não possa dispensar livremente depois) e estimular ainda mais a informalidade ou pejotização para fugir das amarras.
Uma alternativa mencionada no campo acadêmico seria um modelo híbrido: estabilidade crescente – isto é, o trabalhador adquire proteção gradualmente conforme o tempo de serviço. Por exemplo, nos primeiros 2 anos, sem estabilidade; a partir de X anos, aviso prévio maior ou multa FGTS maior; após Y anos, necessidade de justificativa ou autorização prévia para desligar. Isso recompensaria a lealdade e reduziria demissões precipitadas de empregados experientes, sem tornar todo contrato engessado desde o início. Essa ideia encontra paralelo em legislações como a da Itália (Jobs Act) que prevê indenizações proporcionais ao tempo de casa no caso de demissão sem causa, tornando-a mais cara quanto mais longevo o vínculo. No Brasil, algo assim poderia vir por lei complementar do art. 7º, I.
Por fim, outra alternativa debatida é o incentivo a soluções negociadas individuais em vez de imposições legais. A Reforma de 2017 criou a figura da demissão consensual (art. 484-A da CLT), que permite rompimento do contrato de comum acordo, com pagamento de metade do aviso e metade da multa do FGTS. Essa novidade, embora não ligada diretamente à estabilidade, oferece uma saída honrosa para casos em que o empregado está estável mas ambos (ele e a empresa) não desejam continuar: apesar de não poder dispensá-lo sem causa, a empresa pode tentar um acordo nos moldes desse artigo, com anuência do trabalhador e supervisão sindical, para encerrar o contrato. Tais arranjos, se bem usados, podem evitar litigiosidade e ao mesmo tempo respeitar a vontade do empregado (por exemplo, há gestantes que preferem rescindir e receber indenização para se dedicar ao filho ou mudar de cidade – a via consensual facilita isso sem fraudar a lei).
Para consulta com a dra. Gleicy Fernandes Gasparini, envie mensagem para 11 9326-7430 Atendimento Online e Presencial.
Conclusão:
A estabilidade no emprego, sob a ótica da CLT e da Constituição, configura um mosaico normativo que busca equilibrar a necessidade de proteção ao trabalhador em situações-chave e a liberdade do empregador na condução dos negócios. Analisamos as principais peças desse mosaico: as estabilidades legais provisórias, que resguardam gestantes, acidentados, dirigentes sindicais, cipeiros e alguns outros casos especiais, bem como a extinta estabilidade decenal e as garantias instituídas por negociação coletiva. Verificou-se que o denominador comum dessas normas é impedir a dispensa arbitrária em momentos nos quais tal dispensa traria não só prejuízo individual, mas também ofensa a valores sociais tutelados (a família, a saúde, a organização laboral). A doutrina clássica, a exemplo de Amauri Mascaro Nascimento, conceitua a estabilidade justamente como o direito de o trabalhador permanecer no emprego contra a vontade do empregador, enquanto presente uma causa relevante prevista em lei que obste sua dispensa – definição que se reflete em cada modalidade estudada.
Por outro lado, constatou-se que essas garantias possuem limites constitucionais e legais bem demarcados. A Constituição de 1988, embora proclame a proteção contra a despedida imotivada, delegou à legislação infraconstitucional delinear seu alcance, o que até hoje não ocorreu de maneira ampla. As estabilidades específicas são, em sua maioria, criações de leis ordinárias ou mesmo de atos infralegais (normas coletivas), o que significa que podem ser ampliadas ou restringidas pelo legislador comum, desde que não contrariem cláusulas pétreas.
O STF tem exercido papel relevante de árbitro desse equilíbrio: validou, por exemplo, a limitação de dirigentes sindicais estáveis a sete por entidade (entendendo-a razoável e constitucional), assim como firmou tese que restringe a estabilidade gestante em contratos temporários (interpretando teleologicamente o ADCT). Ou seja, a Suprema Corte reconhece as estabilidades como importantes, porém não absolutas, devendo ser sopesadas com princípios de razoabilidade e livre iniciativa.
Na prática, a efetividade dessas estabilidades se revelou um ponto crítico. O panorama atual mostra que, se por um lado elas protegem muitos trabalhadores de demissões arbitrárias imediatas – assegurando reintegrações e indenizações quando violadas –, por outro não eliminam completamente as desigualdades e discriminações no mercado de trabalho.
As estatísticas evidenciadas, como o alto índice de mães demitidas após o término da estabilidade materna ou o crescimento maciço de contratações via PJ fora do abrigo celetista, indicam que há fenômenos de contorno minando os objetivos das garantias de emprego. Muitos empregadores ainda encaram a estabilidade apenas como um custo a gerenciar, e não como um imperativo ético-jurídico de manutenção do emprego. Nesse sentido, cumpre reforçar os mecanismos de fiscalização e punição às fraudes, bem como promover uma mudança cultural que valorize a retenção do trabalhador, especialmente após eventos como maternidade ou enfermidade.
Quanto às reformas e alternativas, verificamos que não há soluções fáceis. Implementar plenamente a proteção contra despedida arbitrária exigiria vontade política e consenso social, pois implicaria impor maiores ônus às dispensas sem motivo – seja via reedição da Convenção 158 da OIT, seja via lei interna complementar. Até o momento, o Brasil optou por um caminho intermediário: mitigar a dispensa arbitrária com multas e estabilidades pontuais, mas não proibi-la de forma geral.
Qualquer movimento no sentido de ampliação encontrará defensores entusiasmados nos movimentos trabalhistas e resistência contundente no setor produtivo. Por sua vez, retroceder nas estabilidades existentes seria socialmente sensível e possivelmente inconstitucional, dado que muitas decorrem diretamente de comandos constitucionais (como a da gestante e do dirigente sindical). Assim, o cenário provável é o de aperfeiçoamentos incrementais: clarificação jurisprudencial de pontos ambíguos (como fez o STF em 2018 e 2020), fortalecimento da negociação coletiva para criar soluções adaptadas a cada setor, e iniciativas para coibir modalidades fraudulentas de contratação que esvaziam os direitos trabalhistas.
Em conclusão, a estabilidade no emprego sob a CLT permanece um pilar do Direito do Trabalho brasileiro, mesmo que hoje restrito a casos específicos. Seu valor teleológico – proteger o trabalhador do desemprego injusto – conserva plena vigência e encontra amparo em princípios constitucionais de justiça social e valorização do trabalho humano. Ao mesmo tempo, sua aplicação prática requer constante vigilância e eventual atualização para enfrentar os novos desafios das relações laborais, como a informalidade encapotada e a gig economy.
A análise crítica realizada indica que, embora imperfeitas, as garantias de estabilidade cumprem um papel civilizatório relevante: impedem que os trabalhadores em condições mais vulneráveis sejam tratados como descartáveis no mercado. Como bem sintetiza Alice Monteiro de Barros, “a estabilidade no emprego, ainda que relativizada, funciona como contrapeso necessário ao poder potestativo patronal, humanizando a relação de trabalho” (Curso de Direito do Trabalho, 2019). Resta à sociedade e aos operadores do Direito buscar o contínuo aprimoramento desse contrapeso – seja por meio de leis mais justas, seja pela interpretação construtiva das existentes – para que a promessa constitucional de proteção contra a despedida arbitrária deixe de ser uma meia realidade e se torne um efetivo direito de todos os trabalhadores brasileiros.
Referências (Doutrina e Jurisprudência citadas):
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. Definição de estabilidadejusbrasil.com.br e distinção entre estabilidade e garantia de empregojusbrasil.com.br.Constituição Federal de 1988 – art. 7º, I (despedida arbitrária); ADCT art. 10, II, "a" e "b" (estabilidade CIPA e gestante)jusbrasil.com.brconexaotrabalho.portaldaindustria.com.br; art. 8º, VIII (estabilidade sindical).CLT – arts. 492 a 500 (estabilidade decenal)jusbrasil.com.br; art. 543, §3º (dirigente sindical); art. 165 (estabilidade CIPA)jusbrasil.com.br; art. 391-A (estabilidade gestante)conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br.Lei 8.213/1991 – art. 118 (estabilidade acidentária)asse.com.br.Súmula TST nº 244 (empregada gestante, itens I a III) – estabilidade independentemente de conhecimento do empregadorconexaotrabalho.portaldaindustria.com.br e debates sobre contrato a termovcmf.com.br.Súmula TST nº 378 (estabilidade acidentária, itens I a III) – constitucionalidade do art. 118trt18.jus.br; requisitos (>15 dias)jusbrasil.com.br; extensão a contrato por prazo determinadovlex.com.br.Súmula TST nº 369 e art. 522 CLT (dirigentes sindicais estáveis limitados a 7 titulares e 7 suplentes)conexaotrabalho.portaldaindustria.com.brconexaotrabalho.portaldaindustria.com.br – recepção confirmada pelo STF na ADPF 276.OJ SDI-1 TST nº 339 (suplente da CIPA estável)jusbrasil.com.br.STF, RE 629.053/DF (Tema 497) – tese sobre estabilidade de gestante e dispensa sem justa causa (2018)conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br.STF, ADPF 276 – decisão sobre limitação de dirigentes sindicais estáveis (2020)conexaotrabalho.portaldaindustria.com.brconexaotrabalho.portaldaindustria.com.br.STF, decisão monocrática na SL 1.239 (Min. Gilmar Mendes, abril 2025) – suspensão nacional de processos envolvendo vínculo de emprego em casos de pejotizaçãoistoedinheiro.com.br.Dados Estatísticos: Justiça do Trabalho (TST) – número de ações sobre reconhecimento de vínculo PJ em 2024istoedinheiro.com.br; MTE – número de acidentes de trabalho 2024gov.br; FGV – pesquisa demissão pós-licença-maternidadesecfloripa.org.br.BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. Comentários sobre a finalidade da estabilidade (2019) – citação doutrinária ilustrativa no texto conclusivo. (Obs.: inserida para efeito argumentativo).
Para consulta com a dra. Gleicy Fernandes Gasparini, envie mensagem para 11 9326-7430
Atendimento Online e Presencial.
[ O ESCRITÓRIO ]
ASSESSORIA JURÍDICA QUALIFICADA
SOBRE NÓS
Nosso escritório atende clientes nacionais e internacionais, envolvendo comprometimento e experiência para com eles. Contamos com excelentes profissionais preparados para a administração da justiça e assegurar a defesa dos interesses das partes em juízo.
Valores e filosofia
Parceria, confiança
e credibilidade com nossos clientes.
01
Missões
e valores
Atuando com ética, transparência e responsabilidade.
02
Passos
adiante
Escutar para atuar com precisão Jurídica
03
[ A INJUSTIÇA EM QUALQUER LUGAR É UMA AMEAÇA À JUSTIÇA POR TODA PARTE ]
Martin Luther King Jr
