
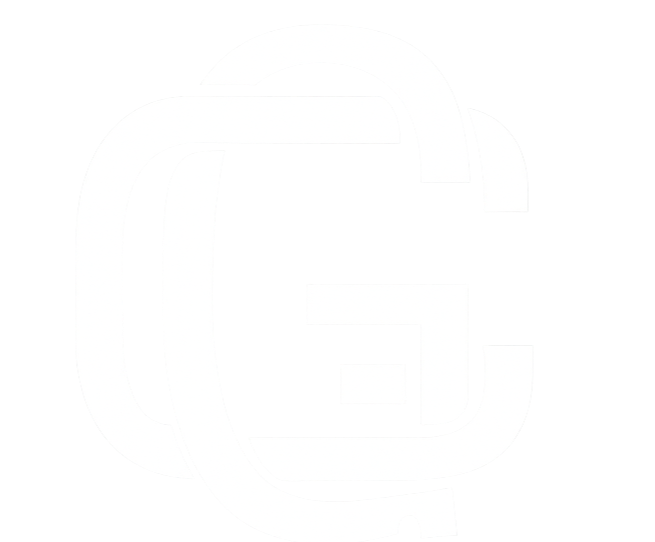
SOLUÇÕES LEGAIS
Dra. Gleicy Fernandes Gasparini, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo, OAB/SP 357.223, mais de 10 anos de experiência na atuação profissional. Especializada em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário, Direito Imobiliário e Penal.
Assessoria Jurídica Especializada
[ Alienação Parental no Ordenamento Jurídico Brasileiro ]
Artigo:
Alienação Parental no Ordenamento Jurídico Brasileiro
Constitucionalidade da Lei nº 12.318/2010 (Lei de Alienação Parental)
11/04/2025 - Barueri - SP
Por Dra. Gleicy Fernandes Gasparini e André Gasparini
A Lei 12.318/2010, conhecida como Lei da Alienação Parental, foi editada para proteger o direito fundamental da criança à convivência familiar saudável, coibindo interferências abusivas de um dos genitores na formação psicológica do filho. Em princípio, essa finalidade alinha-se ao princípio constitucional do melhor interesse da criança e ao dever de proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal. Até o momento, não houve declaração de inconstitucionalidade da lei pelo Supremo Tribunal Federal, e os tribunais superiores têm aplicado suas disposições regularmente.
Por exemplo, já em 2008 (antes mesmo da lei), o STJ reconheceu a prática de alienação parental: em um caso paradigmático, uma mãe acusava o pai de abuso sexual da filha e o pai alegava alienação parental; com base em provas periciais, o STJ concluiu pela inocência do pai e concedeu a guarda a ele.
Por outro lado, juristas e entidades de direitos humanos questionam se alguns dispositivos da lei ferem garantias constitucionais, especialmente nos casos envolvendo suspeitas de abuso. Críticos argumentam que a lei, ao prever medidas enérgicas (como inversão de guarda) mesmo antes da conclusão de investigação de abuso, pode comprometer a segurança da criança e o acesso das mães à Justiça.
O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, alertou que a lei “formaliza a desconfiança frequente que paira sobre as denúncias de mulheres”, tornando-se uma ameaça à proteção de crianças em casos de abuso de difícil prova. Essa perspectiva levanta preocupações constitucionais quanto à proteção efetiva de crianças e ao direito de não discriminação de mulheres em contexto de violência. Ainda assim, os defensores da norma sustentam que ela é compatível com a Constituição, pois alienar uma criança do convívio com o outro genitor constitui abuso moral e violação de direitos da personalidade do menor. Ou seja, se corretamente aplicada, a lei reforçaria os preceitos constitucionais de proteção à infância e à dignidade da pessoa humana, coibindo a instrumentalização da criança nos conflitos entre pais.
Debates Recentes e Propostas de Alteração ou Revogação da Lei
Nos últimos anos, a Lei de Alienação Parental tornou-se alvo de intenso debate no Congresso Nacional. Diversos parlamentares e instituições da sociedade civil apontaram distorções na aplicação da lei e sugerem mudanças. De um lado, há um movimento forte pela revogação total da Lei 12.318/2010, argumentando que seus efeitos práticos têm prejudicado mulheres e crianças em situações de violência. Esse movimento ganhou apoio tanto de parlamentares progressistas quanto de setores conservadores ligados à pauta de direitos humanos. Em 2023, a Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado aprovou o PL 1.372/2023, de autoria do senador Magno Malta (PL-ES), que revoga integralmente a Lei de Alienação Parental.
A relatora, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), emitiu parecer favorável e ressaltou que a norma não gerou os efeitos esperados, recebendo críticas de diversos segmentos da sociedade. Segundo Malta, a revogação conta com respaldo de órgãos como o Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Saúde, além de peritos da ONU especializados no combate à violência contra mulheres e meninas. Na Câmara dos Deputados, tramita em caráter conclusivo o PL 2812/2022, de autoria das deputadas Fernanda Melchionna, Sâmia Bomfim e Vivi Reis (PSOL), com objetivo igualmente de revogar a lei. A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, dep. Laura Carneiro (PSD-RJ), já apresentou parecer favorável à revogação, e o projeto pode ser votado a qualquer momento.
Por outro lado, há quem defenda reformas pontuais na legislação em vez de sua revogação. Em 2022, foi aprovada a Lei 14.340/22 que alterou dispositivos da Lei de Alienação Parental, buscando sanar excessos. Essa nova norma retirou a possibilidade de suspensão da autoridade parental como medida aplicada ao genitor alienador, mantendo as demais sanções (advertência, multa, ampliação de convivência com o outro genitor, alteração ou inversão da guarda).
Além disso, a lei de 2022 passou a assegurar a visitação assistida em local apropriado, salvo se houver risco iminente à integridade da criança, e determinou que a concessão de medidas liminares seja preferencialmente precedida de uma entrevista da criança por equipe multidisciplinar. Também reforçou a necessidade de perícia psicológica ou biopsicossocial, permitindo nomear peritos externos se o quadro de profissionais do juízo for insuficiente, e fixou prazos para apresentação de laudos técnicos. Essas mudanças indicam o reconhecimento, pelo próprio legislador, de falhas na aplicação da lei original – tentando, por exemplo, evitar decisões precipitadas sem ouvir a criança e garantir celeridade nas avaliações especializadas.
Especialistas contrários à revogação total argumentam que ajustes assim são mais adequados do que extinguir a lei. Por exemplo, já tramitaram propostas para aprimorar a definição de alienação parental e os critérios de prova, evitando interpretações equivocadas. Uma advogada de família apontou a necessidade de clarear no texto legal que o simples arquivamento de uma denúncia (por falta de provas) não basta para caracterizar alienação parental, exigindo-se demonstração de que a acusação era deliberadamente falsa. Esse tipo de reformulação visaria prevenir injustiças sem renunciar à proteção contra a alienação em si. Em suma, no Congresso hoje confrontam-se duas vias: de um lado, a revogação integral da lei – entendida por seus críticos como a remoção de um entrave à justiça para vítimas de abuso –, e de outro, a manutenção com melhorias – entendida por seus defensores como a melhor forma de equilibrar o direito à convivência familiar com a proteção de crianças em cenários complexos.
Impacto Prático da Lei nos Tribunais Brasileiros
Desde sua vigência, a Lei de Alienação Parental vem sendo invocada com frequência em disputas de guarda e visitas. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, nos últimos anos têm sido ajuizadas cerca de 4,5 mil ações de alienação parental por ano, número que chegou a 5.152 novos processos apenas entre janeiro e outubro de 2023. Na prática forense, a lei confere tramitação prioritária a esses casos, o que significa que medidas podem ser tomadas de forma célere para resguardar o convívio da criança com o genitor supostamente alienado. Esse caráter célere, embora proteja o vínculo parental, também acarreta decisões antecipadas de grande impacto – por exemplo, alterações provisórias de guarda – antes da conclusão de eventuais processos criminais sobre abuso, o que é objeto de controvérsia.
Várias decisões judiciais relevantes ilustram a aplicação (e os dilemas) da lei. Em geral, os tribunais têm considerado perícias psicológicas e sociais fundamentais para embasar suas conclusões sobre alienação parental. No Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP), por exemplo, uma decisão de 2020 ampliou significativamente as visitas de um pai após constatado, via laudos periciais, o “risco de instalação da síndrome da alienação parental” pela mãe. Nesse caso, verificou-se que a mãe vinha criando obstáculos ao convívio e até fizera acusação infundada de abuso sexual contra a nova companheira do pai – alegação que foi descartada como falsa após avaliação técnica.
A perícia psicológica apontou desvios de personalidade materna e boa conduta do genitor paterno, levando a 8ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP a assegurar finais de semana prolongados de convivência entre pai e filho. Notavelmente, o tribunal negou a inversão total da guarda, ponderando que a criança, ainda muito nova e apegada à mãe, sofreria com uma ruptura abrupta. Essa decisão exemplifica o cuidado em dosar as medidas: reconheceu-se a alienação e ampliou-se o contato com o pai, mas evitou-se retirar completamente a criança do convívio materno de imediato.
Há também casos em que os julgados efetivaram a inversão da guarda em favor do genitor acusado de abuso, quando as acusações não se comprovaram e foram interpretadas como táticas de alienação. Antes mesmo da lei, como visto, o STJ já decidira um caso em que o pai ficou com a guarda após sindicâncias concluírem não haver abuso, mas sim manipulação por parte da mãe. Após 2010, diversos processos em varas de família seguiram lógica semelhante.
Contudo, por tramitarem em sigilo, as informações detalhadas são limitadas. Coletivos de mães e pesquisas acadêmicas têm tentado levantar esses dados: um levantamento do grupo Mães na Luta indicou que, dentre 32 casos acompanhados pelo coletivo em que houve alegação de abuso sexual contra a criança, em 26 (81%) houve reversão da guarda em favor do pai acusado.
Embora esses números possam não refletir a universalidade das decisões, eles sugerem uma tendência preocupante em certos contextos, qual seja, a aplicação rigorosa da lei resultando no afastamento de mães protetoras e na manutenção do convívio com pais potencialmente abusadores (quando as alegações de violência não são cabalmente comprovadas). Os tribunais afirmam basear tais decisões no conjunto probatório de cada caso, mas a disparidade estatística levantada por pesquisas suscita dúvidas sobre possíveis vieses na avaliação de denúncias de abuso sob a égide da Alienação Parental.
Posicionamentos de Especialistas do Direito, Psicólogos e Operadores da Justiça
A comunidade jurídica e os profissionais ligados à área infanto-juvenil estão divididos quanto à eficácia e aos riscos da Lei de Alienação Parental. Especialistas em Direito de Família, em sua maioria, reconhecem mérito na lei, mas divergem sobre manter ou não o diploma legal em sua forma atual. Representando uma visão favorável à lei, a psicanalista e jurista Giselle Groeninga (USP) afirma que a norma trouxe “um significativo avanço na compreensão da importância e da complementaridade das funções parentais”. Ela destaca que a Lei 12.318/2010 explicitou a necessidade de avaliação psicológica das partes e forneceu aos juízes instrumentos graduais de intervenção – advertências, acompanhamento psicológico familiar, multas e até mudança de guarda – inexistentes de forma integrada em outras leis brasileiras.
Para Giselle, o valor educativo da lei é enorme, fazendo muitos pais refletirem e moderarem comportamentos inadequados, e o argumento de que a lei favorece abusadores seria descabido, pois “há devido processo legal nesses casos” e a perícia técnica prevista em lei é ainda “o mecanismo mais seguro” para se apurar a verdade. Nesse mesmo sentido, a advogada Amanda Helito (especialista em Família) sustenta que a lei tem se mostrado “absolutamente necessária” para efetivar os direitos das crianças em contexto de disputa, protegendo-as de abusos emocionais no ambiente familiar. Ela e outros juristas argumentam que revogar a lei seria um retrocesso e deixaria lacunas, já que nenhuma outra norma supre exatamente essa tutela específica. Em vez disso, defendem uma análise responsável de “quais pontos ou artigos a lei pode eventualmente falhar” para aprimorá-la, embasando-se em dados empíricos, ao invés de eliminar por completo um instrumento jurídico útil.
Operadores do sistema de justiça também expressam visões cautelosas e equilibradas. A juíza Flávia Pessoa, representando o CNJ, já enfatizou que a lei de alienação parental é importante, pois em disputas familiares “pode haver má-fé dos dois lados”: tanto mães eventualmente acusando falsamente pais de violência, quanto pais acusando falsamente mães de alienação. Esse depoimento reflete a percepção de que a lei, se bem aplicada, serve para distinguir situações verdadeiras de abuso em que a acusação de abuso é utilizada como estratégia ilícita de rompimento de vínculo parental.
De modo semelhante, o advogado Rodrigo Ricardo, da Associação Brasileira Criança Feliz, defende tanto a Lei de Alienação Parental quanto a Lei de Guarda Compartilhada como ferramentas necessárias. Ele aponta que a realidade brasileira envolve múltiplos problemas – desde mães que obstaculizam convivência até pais que abandonam os filhos – e que não se pode tratar a questão de forma maniqueísta. Para esses operadores, a solução não é descartar a lei, mas sim aplicá-la com critério, considerando as peculiaridades de cada caso e coibindo abusos de direito de qualquer parte.
Por outro lado, diversos especialistas em psicologia, direito e direitos humanos criticam fortemente a lei, entendendo que seus riscos superam seus benefícios, especialmente em casos de alegações de abuso sexual ou violência doméstica. Uma das críticas de base é que o conceito que inspirou a lei – a chamada Síndrome da Alienação Parental (SAP), proposta pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner – carece de reconhecimento científico. Gardner propunha que muitas acusações de abuso feitas por mães após a separação seriam “falsas” ou exageradas, fruto de uma campanha de difamação contra os pais, e que isso geraria uma síndrome identificável na criança.
No entanto, suas ideias não foram validadas em pesquisas revisadas por pares. A Associação Americana de Psiquiatria jamais reconheceu a SAP como diagnóstico, e a Organização Mundial da Saúde chegou a incluí-la na CID como transtorno em 2018, mas removeu a categoria em 2020 diante da controvérsia e falta de comprovação científica. Assim, psicólogos e psiquiatras alertam que rotular reações de crianças em disputas familiares como “sintomas” de uma síndrome não reconhecida é metodologicamente impróprio e pode levar a equívocos graves nas avaliações periciais. Muitos profissionais da saúde mental preferem abordar o tema como “alienação parental” (um comportamento ou processo) e não como síndrome inerente à criança, enfatizando a necessidade de análise caso a caso.
Sob a perspectiva desses críticos, a lei brasileira – ainda que não mencione o termo “síndrome” – incorporou na prática conceitos controversos que estigmatizam sobretudo as mães. A Defensoria Pública de São Paulo (Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher) emitiu recentemente nota técnica apoiando a revogação da lei, afirmando que a legislação “se baseia em conceitos controversos e estigmatiza mulheres”. Segundo a Defensoria, a maioria dos usuários da lei são homens envolvidos em processos por violência sexual contra os filhos, violência doméstica contra a mãe ou mesmo cobrança de pensão alimentícia.
Ou seja, seria frequente que pais acusados nesses contextos acionem a Lei de Alienação Parental para inverter a situação, taxando as mães de mentirosas ou vingativas. A nota conclui que a norma tem contribuído para “a construção e consolidação do estereótipo da mulher como alienadora”, reproduzindo esse viés no sistema de justiça. Juristas como a advogada Andressa Gnann compartilham dessa posição, defendendo que a revogação da lei é necessária. Ela argumenta que a comprovação da alienação parental é altamente subjetiva e que a existência da lei acabou por se tornar uma arma de intimidação nas disputas de guarda: muitos pais ameaçam acusar as mães de alienação para dissuadi-las de denunciar abusos ou de exigir direitos dos filhos. Para Gnann, o ordenamento já dispõe de meios – como o próprio Código Civil, art. 1.589 – para garantir o direito de convivência do pai, não havendo necessidade de uma lei específica que pode ser manipulada por litigantes de má-fé. Nesse sentido, parte da doutrina considera a Lei de 2010 desnecessária ou mesmo nociva, preferindo que casos de abuso emocional ou manipulação sejam tratados dentro das ações de família existentes, sem um rótulo específico que pode induzir julgamentos apressados.
Riscos da Utilização Abusiva da Lei e Efeitos na Proteção de Crianças e Adolescentes
Talvez a crítica mais grave à Lei de Alienação Parental seja quanto ao seu potencial de uso abusivo, resultando em prejuízos à proteção de menores. Numerosos relatos apontam que a acusação de “alienação parental” tem sido empregada como estratégia de defesa por pais investigados por violência para desqualificar as denúncias feitas pelas mães. Em audiências públicas realizadas no Congresso, várias mulheres narraram ter denunciado ex-companheiros por abuso sexual contra os filhos e, em resposta, enfrentaram acusações de alienação parental que lhes custaram a guarda das crianças. Como casos emblemáticos, o coletivo Mães na Luta (que reúne centenas de mães em litígio de guarda) afirma que “em praticamente todos os casos” acompanhados por elas, quando a mãe aponta suspeitas de abuso do pai, ela própria acaba rotulada como alienadora. Os termos utilizados em decisões judiciais muitas vezes retratam essas mulheres como histéricas ou mentirosas, ignorando-se históricos de violência doméstica prévia.
Esse padrão gera um efeito assustador: segundo depoimentos colhidos na Câmara, “hoje as mulheres não podem procurar a Justiça porque há um risco de inversão de direitos”, ou seja, de perderem a guarda caso a denúncia não seja provada de imediato. Há quem alerte que tal situação desestimula a revelação de abusos reais, criando um ambiente de impunidade para agressores. A promotora de justiça Daniella Escobar, por exemplo, declarou em debate legislativo que “em regra, as denúncias de abuso sexual são verdadeiras, e não falsas, como vem pressupondo a Justiça”, alertando que o Brasil corre o risco de se tornar “paraíso dos violadores” se continuar desacreditando vítimas com o rótulo de alienação parental. Ela defende que a lei seja profundamente reformulada, pois estaria dificultando a aplicação da Lei Maria da Penha em contextos de violência familiar, ao transformar mães denunciantes em rés nos processos de família.
Organismos nacionais e internacionais de direitos humanos endossam essas preocupações. Peritos da ONU encaminharam, em 2022, comunicação formal ao governo brasileiro pedindo a revogação da Lei de Alienação Parental, enfatizando que os tribunais de família “rejeitam regularmente as alegações de abuso sexual [...] desacreditando e punindo as mães, incluindo através da perda da custódia” dos filhos. No âmbito interno, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) já emitiram recomendações pela revogação total ou parcial da lei.
Inclusive, o Conanda propôs suprimir dispositivos que permitam a inversão de guarda com base apenas em “indícios de difamação” não comprovada, entendendo que a lei atual favorece inversões precipitadas de guarda em detrimento da segurança da criança.
A Defensoria Pública e o Ministério Público têm ressaltado que, em casos de abuso intrafamiliar (que costumam ocorrer sem testemunhas e deixam poucos vestígios), o relato da criança e do responsável pode ser a principal prova disponível. Nesses casos, desacreditar sumariamente tais relatos sob alegação de possível alienação coloca os menores em risco. Como pontuou a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, “situações de abuso dificilmente serão provadas judicialmente” de maneira cabal, e a Lei de Alienação Parental representa “uma ameaça” pois institucionaliza a tendência de duvidar das vítimas, em vez de protegê-las.
Sob a ótica da proteção infantil, o efeito deletério do uso abusivo da lei é duplo: crianças podem ser entregues ou mantidas sob guarda de agressores, e mães protetoras são afastadas e silenciadas. Há relatos chocantes mencionados em debates parlamentares, incluindo casos extremos em que mulheres teriam até simulado lesões nos filhos para incriminar o outro genitor – fatos usados para defender a existência de acusações falsas deliberadas.
Embora certamente existam casos de denúncias falsas, a questão central é se a lei tem servido mais para revelar essas falsas acusações ou para acobertar situações de violência reais. Pesquisas acadêmicas lançam luz sobre o viés de gênero nas acusações: um estudo das pesquisadoras Fabiana Severi e Camila Villarroel, da USP, analisando 1.478 processos judiciais, constatou que em 80% dos casos com alegação de violência doméstica e 70% dos com alegação de abuso sexual, a acusada de alienação parental era a mãe.
Justamente nas situações em que mulheres e crianças afirmam ter sofrido violência, elas acabam frequentemente convertidas em rés sob a pecha de “alienadoras”. Ademais, “os casos de alienação parental têm tramitação prioritária”, de modo que uma mãe pode perder a guarda antes mesmo de concluída a investigação criminal sobre o abuso denunciado. Esse panorama gera o temor de que a lei esteja sendo instrumentalizada para “encobrir situações de abuso sexual das crianças” e outras violências, conforme alertado em audiência pública na Câmara.
Diante desses riscos, há esforços institucionais para mitigar o mau uso da lei. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, estabeleceu um grupo de trabalho (coordenado pela ministra do STJ Nancy Andrighi) para elaborar um protocolo de escuta especializada de crianças e adolescentes em ações de alienação parental. O objetivo é padronizar procedimentos e capacitar os atores do sistema de justiça, evitando a revitimização dos menores e aumentando a confiabilidade das avaliações.
Tais medidas podem ajudar a filtrar casos em que a alegação de alienação oculta, na verdade, uma situação de abuso que demanda proteção urgente. Ainda, a lei de 2022 (Lei 14.340/22) ao exigir entrevista prévia da criança antes de liminares e ao excepcionar visitas assistidas quando há “iminente risco” sinaliza uma preocupação em priorizar a segurança da criança na aplicação da Lei de Alienação Parental.
No entanto, críticos mantêm-se céticos se ajustes procedimentais seriam suficientes – muitos entendem que a única solução é revogar a lei, redefinindo completamente o tratamento jurídico dessas complexas disputas familiares dentro do paradigma da proteção à criança contra qualquer forma de violência (física ou psicológica).
Conclusão
A análise crítica da Alienação Parental no ordenamento brasileiro revela um campo de tensão entre a proteção ao convívio familiar e a proteção contra abusos. A Lei nº 12.318/2010 nasceu com respaldo em princípios constitucionais de tutela da criança, mas sua implementação expôs desafios não previstos pelo legislador. De um lado, a lei é defendida como um avanço necessário no Direito de Família, capaz de educar os pais sobre seus deveres e reprimir condutas de manipulação emocional que ferem os direitos da criança à convivência equilibrada com ambos os genitores. Por outro lado, acumulam-se evidências e testemunhos de que a mesma lei pode estar sendo usada como arma processual para perpetuar violências, invertendo culpados e vítimas e silenciando denúncias legítimas de abuso.
O Congresso Nacional reflete esse impasse, dividindo-se entre propostas de aprimoramento e iniciativas de revogação total da lei, estas últimas apoiadas por organismos como a ONU e entidades de direitos humanos.
No contexto jurídico-acadêmico, há consenso de que nenhuma proteção pode se sobrepor ao melhor interesse da criança – a dificuldade está em definir esse interesse diante de alegações conflitantes. Enquanto alienar uma criança do convívio de um genitor é, em si, uma forma de abuso emocional que merece resposta estatal, ignorar denúncias de violência sob suspeita de “alienação” pode ser ainda mais danoso, colocando menores em risco. A chave para resolver o dilema talvez resida em aperfeiçoar os filtros e o preparo técnico do sistema de justiça: investir em perícias imparciais e céleres, equipes multidisciplinares bem treinadas e protocolos padronizados de escuta da criança.
Assim, seria possível distinguir com mais segurança quando se está diante de uma falsa acusação manipulativa (caso em que a Lei de Alienação Parental deve sim atuar) ou quando se trata de uma denúncia verídica de abuso (caso em que a prioridade deve ser proteger a criança, afastando-a do possível agressor). Em suma, a Alienação Parental, como conceito jurídico, não pode ser analisada fora do contexto de cada caso concreto. A experiência dos últimos 13 anos indica que a lei, embora bem intencionada e constitucional em sua essência protetiva, apresentou falhas graves na prática, demandando revisão. Resta à sociedade e aos legisladores encontrar o ponto de equilíbrio: garantir que nem crianças sejam privadas injustamente do convívio com um dos pais, nem que a busca por esse convívio sirva de pretexto para encobrir violências intoleráveis. Somente com essa abordagem equilibrada – informada por dados, por especialistas de múltiplas áreas e pela escuta das próprias crianças – é que o ordenamento jurídico brasileiro poderá assegurar, de forma efetiva, a proteção integral dos menores e a justiça nas relações familiares conflituosas.
Referências: Lei 12.318/2010; CF/1988, art. 227;
Para consulta com a dra. Gleicy Fernandes Gasparini, envie mensagem para 11 9326-7430
Atendimento Online e Presencial.
Valores e filosofia
Parceria, confiança
e credibilidade com nossos clientes.
01
Missões
e valores
Atuando com ética, transparência e responsabilidade.
02
Passos
adiante
Escutar para atuar com precisão Jurídica
03
[ O ESCRITÓRIO ]
ASSESSORIA JURÍDICA QUALIFICADA
SOBRE NÓS
Nosso escritório atende clientes nacionais e internacionais, envolvendo comprometimento e experiência para com eles. Contamos com excelentes profissionais preparados para a administração da justiça e assegurar a defesa dos interesses das partes em juízo.
[ A INJUSTIÇA EM QUALQUER LUGAR É UMA AMEAÇA À JUSTIÇA POR TODA PARTE ]
Martin Luther King Jr
